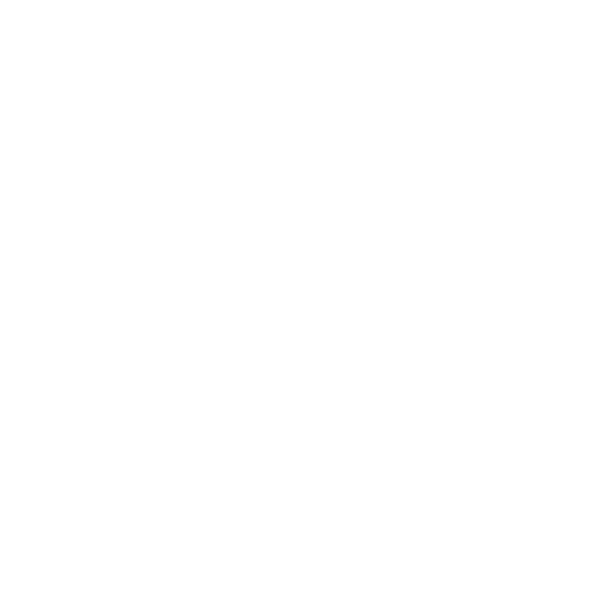- Vinicius carrijo
Racismo, xenofobia e pobreza. Aliados ao machismo, esses são alguns dos preconceitos com os quais mulheres brasileiras têm que lidar em seu dia a dia. Ainda assim, elas encontram caminhos, marcados sempre de muita luta, para superar esses entraves e garantir direitos humanos fundamentais, entre eles a educação.
O Educação&Participação selecionou cinco mulheres que se destacaram nas regiões Norte, Sul, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste pela defesa de uma educação integral para todas e todos e pela garantia dos direitos de crianças, adolescentes e jovens. Conheça suas histórias.
Maria Cristina Chaves Garavelo
“Meu sonho é ver uma educação integral de fato, com um currículo unificado que provoque as escolas e as integre com outros espaços.”
O ano de 2017 foi especial para a porto-alegrense Maria Cristina Chaves Garavelo: além da comemoração pelos 60 anos de idade, a serem completados no dia 14 de dezembro, houve também o início de uma nova etapa na vida – sua aposentadoria.
Mais velha entre três irmãs e dois irmãos, Cristina cursou os primeiros anos escolares em um colégio de freiras, o Sagrado Coração de Jesus. No antigo ginásio, hoje Ensino Fundamental II, já estava em uma escola pública, a Infante Dom Henrique, em Porto Alegre (RS). Dali, foi cursar Magistério no Instituto de Educação General Flores da Cunha. Vem de cedo, portanto, sua opção pela carreira de professora.
Sempre foi um sonho meu, desde quando ainda estava na 4ª série. Era a mais velha entre meus irmãos e lia para eles, gostava de ensinar. Aos 15 anos de idade, tomei a decisão: ‘vou fazer Magistério, vou ser professora!’. Entrei no Magistério aos 16, fiz estágio na Escola Estadual Presidente Roosevelt, no bairro do Menino Deus, dando aula para a 3ª série. Depois de três anos e meio, me formei. Fui para o estado e comecei a dar aulas, na parte da tarde, em uma escola estadual de 1º grau incompleto [Ensino Fundamental I], que tinha apenas até a 4ª série, a Dr. José Loureiro da Silva. De manhã, eu fazia Letras na PUC-RS, na modalidade Português-Francês. Era 1977.”
Maria Cristina Chaves Garavelo
“O que mais gosto na educação integral é possibilitar outras experiências às crianças e adolescentes para além do espaço da sala de aula.”
Cristina, porém, nunca deu aulas de Francês: atuou como alfabetizadora, trabalhou como professora nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ensinando todas as disciplinas, e lecionou Português na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Por fim, fez pós-graduação em Alfabetização e em Anos Iniciais e, de lá para cá, acumulou 28 anos na sala de aula e mais 12 trabalhando na Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre (SMED).
Tanta experiência lhe permitiu conhecer de perto os desafios da escola pública.
Trabalhei em duas realidades concomitantemente até 2005: nas escolas estaduais e na rede municipal, com condições de trabalho e estrutura física muito diferentes. No município, investe-se mais e atende-se mais as regiões periféricas, além de haver mais escolas voltadas para a inclusão de alunos com necessidades específicas, como cadeirantes, portadores da Síndrome de Asperger, de Down… Muitas vezes, as próprias escolas estaduais encaminham esses alunos, porque há salas de integração, laboratórios de aprendizagem, mais recursos. Por outro lado, a rede estadual é bem maior, chega a atender 70% dos estudantes em Porto Alegre. Ainda que o acesso à escola pública tenha aumentado muito, é uma pena ver professoras e professores precisando dar aula em quatro ou cinco escolas, por causa dos salários, e com pouco estímulo à formação.”
Em meados dos anos 2000, Maria Cristina teve seu primeiro contato com a educação integral, quando entrou para a SMED em 2005, como coordenadora do Ensino Fundamental.
Em maio de 2009, tornou-se diretora pedagógica. Depois, em 2011, passou a ser coordenadora do projeto Cidade Escola, política pública de educação integral da capital gaúcha. Essa iniciativa contou com a assessoria da Fundação Itaú Social e do Cenpec em Políticas de Educação Integral e seus primeiros passos começaram a ser dados em 2006.
Cristina pôde, então, assistir à história do Cidade Escola desde o começo.


A SMED começou a estudar a possibilidade de implantar a educação integral ainda em 2005, e a primeira escola com a proposta foi implantada em 2006. Em 2012, assumi definitivamente o Cidade Escola e passei a acompanhar o processo mais de perto. Digo que eu ganhei um presente: estar nesse programa há mais de quatro anos. Já me interessava pela educação integral e, quando assumi a coordenadoria, mergulhei de cabeça.”
E continua: “Para ser sincera, houve resistências ao Cidade Escola no início, principalmente por causa da vinda dos educadores sociais e dos convênios, mas os coordenadores dos programas em cada escola foram sensacionais para mudar isso. Hoje, o programa está presente em toda a rede municipal. Os professores viram que o resultado era positivo e abraçaram a ideia da educação integral.”
Em todos esses anos, Maria Cristina também não teve medo de pôr a mão na massa. Nas formações com o Cenpec e a Fundação Itaú Social em 2015 e 2016, por exemplo, usava seu carro para trazer insumos, carregava caixas, ajudava nos lanches.
O que mais gosto na educação integral é possibilitar outras experiências às crianças e adolescentes para além do espaço da sala de aula: a música, o esporte, a educação ambiental, a possibilidade de cada escola construir uma proposta de acordo com seus recursos e com a necessidade da comunidade. Hoje, temos alunos que tocam flauta, que jogam hóquei indoor no campeonato estadual, algo que não teria acontecido se não tivessem tido acesso por meio da educação integral.”
Para Cristina, a educação integral também pode ajudar a combater o machismo, ao abordar os direitos das mulheres.
“Às vezes, ouvimos comentários, mesmo de colegas, de que é melhor ter um diretor que uma diretora, que onde há ‘muita mulher’ é pior. É preciso romper com isso, para que não haja machismo nem mesmo nas escolas.”
Além disso, ela confessa que espera ver realizado um sonho antigo: a derrubada da separação entre turno e contraturno, com um currículo integrado de fato, contemplando o período dentro da escola e das organizações e outros espaços educativos.
O que você diria para uma jovem que hoje decide trabalhar com educação integral?
Olha, o Magistério pode ser muito desgastante: vemos crianças passando frio, violentadas, vítimas de crimes… Mas se você for uma boa professora e tiver certeza do que quer fazer pelas crianças e adolescentes, vá e faça o seu melhor, porque nós precisamos de pessoas comprometidas. Comecei a trabalhar cedo, aos 19 anos, mas eu mesma voltei agora para a escola, onde fico até me aposentar. Tinha essa vontade, e não é fácil, mas é gratificante: sinto que cumpri com minha contribuição.
>> Quer saber mais?
Confira a publicação sobre as proposições curriculares para Porto Alegre na perspectiva da educação integral.
Macaé Evaristo dos Santos
“Sempre acreditei que a educação é um elemento importantíssimo de transformação e emancipação social.”


A fome foi um risco pelo qual a ex-secretária de educação de Minas Gerais, Macaé Evaristo dos Santos, passou na infância.
Nascida há 51 anos em São Gonçalo do Pará, um município de apenas 10 mil habitantes no interior de Minas Gerais, Macaé é a filha mais velha de uma família formada apenas por mulheres.
Sua mãe ficou viúva muito jovem: Macaé tinha apenas 10 anos de idade na época, e a irmã caçula, 1 mês de idade. Outras duas irmãs completavam o quarteto feminino. Professora, passou dificuldades para cuidar das filhas.
“Minha mãe é filha única. Por isso, meus avós conseguiram pagar os estudos dela… Mas na época havia ainda muita dificuldade, porque ela é negra, e nem todas as escolas da região recebiam estudantes negros. Minha mãe foi rejeitada em algumas por isso, mas conseguiu completar o Magistério de nível médio, passou em um concurso e se tornou professora do estado. Mesmo assim, nossa família era pobre – e, como era a mais velha, eu a ajudava a criar minhas três irmãs. Tanto que minha mãe, até hoje, me chama de ‘filha-irmã’ dela.”
As dificuldades fizeram com que a família recebesse algumas propostas indecorosas, conta Macaé: “Quando minha mãe ficou viúva, aparecia gente dizendo para ela dar as filhas: ‘Você não vai conseguir criar todas. Deixa comigo, que eu vou cuidar de uma delas’. ‘Cuidar’, a gente sabe, era virar empregada doméstica enquanto se morava na casa da pessoa, mas minha mãe nunca se deixou enganar. Ela dizia que passaríamos a pão e água, mas ficaríamos todas juntas.”
A fibra da mãe, a origem humilde e a condição de mulher e negra contribuíram para que Macaé se envolvesse com o ambiente educacional. A mãe era de um grupo de teatro, levava os alunos para ensaiar em casa, participava ativamente da construção de uma comunidade de aprendizagem e dava um valor muito grande à educação.
“A única alternativa era estudar muito, fazer um concurso público para não depender de ‘quem indica’, seguir no Ensino Superior para melhorar a qualidade de vida”, conta Macaé, para quem a escolha pela educação foi quase natural – quase, porque não era, afinal, a trajetória traçada socialmente para mulheres negras.
“O machismo é estruturante, não é? Na educação, até é mais fácil haver mulheres em espaços de liderança, mas as pessoas ainda não estão acostumadas a ver mulheres negras nessa condição. Há uma percepção de que se é uma cidadã de segunda categoria, sem capacidade de ocupar esses lugares.
A minha cor da pele, a minha estética, não estão presentes na paisagem desses lugares institucionalmente constituídos. Se é mais difícil à mulher chegar a postos de comando, para a mulher negra é duas vezes mais […].
Já ouvi desqualificações de colegas secretários em seminários, de toda ordem. Às vezes, quando chego a um lugar em carro oficial, as pessoas olham para ver se eu vim mesmo nele.”
A secretária estudou em escolas públicas e escolas comunitárias, depois estadualizadas, de modo que sua história somente foi possível por coincidir com a ampliação do direito à educação pública. Assim, terminou o Ensino Fundamental na Escola Benedito Valadares. No Ensino Médio, cursou Magistério – única opção em São Gonçalo do Pará – e complementou com um curso técnico em Química na vizinha Divinópolis, a cerca de 24 km de distância. A rotina era pesada: acordar às 5h da manhã, ir a Divinópolis, voltar à tarde para ajudar a mãe e, à noite, cursar o Magistério. “Depois disso, minha mãe disse que seria preciso trabalhar para continuar os estudos. Fiz concurso para a Prefeitura de Belo Horizonte e fui chamada quase imediatamente: me formei em 1982, fiz o concurso em 1983, e, em 1984, já estava trabalhando como professora.”
Em Belo Horizonte, Macaé fez curso superior de Serviço Social, que uniu à formação como professora, enquanto esteve inserida em escolas que atendiam comunidades vulneráveis. “Trabalhei em escolas na zona norte, em regiões com baixíssimos índices de desenvolvimento humano. Dirigi uma escola na periferia na década de 1990, no Cafezal, uma das regiões mais violentas em BH na época, onde se fazia uma das primeiras experimentações de associar uma renda à família e à frequência escolar, para evitar que as crianças fossem pedir esmolas nos semáforos ou que se submetessem ao trabalho infantil. Trabalhei no Aglomerado da Serra, outra região pobre, com um coletivo de professores e assembleia de estudantes, explorando alternativas à repetência de ano, começando a trabalhar numa proposta de sistema de ciclos. Trabalhei com EJA e na formação de professores indígenas”, conta.
Como consequência, toda a sua trajetória profissional foi marcada pela luta pelo direito à educação, inserção em movimentos comunitários, mobilização com organizações sociais e associações de bairro, o que, aos poucos, a levou envolver-se com a educação integral.
“Em 20 anos dentro da escola, sempre atuei na periferia, pensando em construir alternativas nos territórios, para que as crianças estivessem envolvidas em atividades educativas também fora da escola: em organizações, bibliotecas comunitárias e depois em uma proposta de política pública que ampliasse essa concepção para todas as crianças.”
Foi assim que, ao tornar-se secretária de educação de Belo Horizonte, em 2004, ajudou a implantar o Programa Escola Integrada, que contou com a contribuição e assessoria da Fundação Itaú Social e do Cenpec. Entre 2013 e 2014, foi também secretária de Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) do Ministério da Educação (MEC).
À frente da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (Seduc), Macaé continuou na defesa da educação integral, inclusive com foco no Ensino Médio, e contou com a contribuição do Programa Jovens Urbanos.
“Pensar a educação integral é pensar na garantia do direito à educação, mas que não se faz desatrelado da garantia de outros direitos. Pensar em diferentes espaços educativos, em uma perspectiva de cidade educadora, é pensar nos diferentes equipamentos públicos que cumpram uma função educativa para crianças, adolescentes e jovens, mas que, no final, também se transformam em espaços educativos para adultos e idosos.”
O que você diria para uma jovem que hoje decide trabalhar com educação integral?
“Primeiro, você não vai ficar rica [risos], mas será muito feliz. A pauta da educação, ser professora, estar na sala de aula, esse é um dos espaços em que vemos um retorno mais rápido de nosso trabalho. Não tem coisa mais linda que ter uma turma de alfabetização com a qual você começa a trabalhar, e uns quatro meses depois, as crianças estão lendo, e você as vê se despertar para o conhecimento.
Trabalhar na educação é acreditar no potencial do outro, no seu potencial de transformação. É um trabalho que não tem como não ser engajado e é maravilhoso: temos milhares de professoras e professores pelo país que dão uma contribuição imensa, que, muitas vezes, infelizmente é invisível.”
Seluta Rodrigues de Carvalho
“Sou um exemplo do quanto a educação é transformadora.
Se transformou a minha vida, pode transformar outras.”
Assim como Macaé, Seluta Rodrigues de Carvalho conhece o desafio de ser mulher e negra no Brasil – e, a ele, soma outro: o da origem nordestina.
“Nunca tive oportunidade de falar publicamente sobre minhas origens […].
Morei muitos anos em Goiânia sozinha, desde os 17 anos de idade. Por ser nordestina, por ser menina, por estar só, fui muito discriminada.”
Sua história começa em 18 de maio de 1965. Seluta nasceu em Monte Alegre do Piauí (PI), no interior do estado nordestino aonde a energia elétrica chegou apenas recentemente.
“É uma comunidade de 36 famílias que sempre viveram da agricultura, de arrendar terra, e apenas recentemente começaram a explorar outras atividades. Nasci em um lugar de miséria e não tive acesso à educação na minha infância”, conta Seluta.
“Quando eu tinha 12 anos de idade, aconteceu um episódio que mudou minha vida: minha mãe estava grávida de 8 meses da minha irmã caçula – a mais nova de 10 irmãos – e foi espancada por meu pai.
Ela, então, separou-se dele e mudou-se, grávida, sem condição financeira e com os nove filhos, para a vizinha Gilbués, um município tão pobre e desassistido quanto o lugar onde vivíamos.”
Seluta era a quinta filha e tinha muita vontade de estudar, como outras meninas da sua idade.
“Achava a coisa mais linda um caderno com letra bonita… Mas, onde eu morava, não tinha escola, e era preciso deslocar-se a um lugar muito longe: não tinha como eu sair dali. Então, uma tia minha em segundo grau foi visitar os parentes e pediu à minha mãe para eu morar com ela, em Brasília.”
Desesperada com tantos filhos, morando de favor com parentes, a mãe de Seluta não viu outra alternativa senão aceitar a proposta:
“Minha mãe sofreu muito com isso, e me despedi da família com muito sofrimento. Em Brasília, na verdade, fui submetida ao trabalho infantil. Trabalhei na casa dessa tia sem receber nada em troca, mas, ao menos, pude estudar à noite. Aprendi a ler e a escrever apenas aos 13 anos de idade.”
Seluta conta que a alfabetização tardia ainda tem reflexos em sua vida: lacunas na aprendizagem e no desenvolvimento, em especial o motor, que lhe impediu de ter a letra bonita que tanto admirava. Além disso, teve de enfrentar o bullying:
“Fui direto para uma classe de adultos, e era uma menina muito tímida. Sofria bullying por ser do Nordeste: a classe ria de mim quando eu abria a boca, por causa do meu sotaque, e eu tinha vergonha de falar.
Mesmo assim, morei cinco anos em Brasília, e, aos 17, fui morar em Goiânia, sozinha, algo que, na época, era incomum.
Não podia nem mesmo trocar de namorado, porque a vizinhança já comentava que eu era uma ‘perdida’ e vivia me perguntando onde estava minha família.
Até eu convencer que morava sozinha porque lutava por mim, pela minha vida, por meu crescimento, para construir meu espaço… Não foi fácil.”
O fato de ter sido privada da educação por tanto tempo, em contrapartida, fez nascer em Seluta a convicção de que estudar era muito importante, além do desejo de trabalhar para que outras crianças pobres não fossem privadas da educação e pudessem romper o ciclo de miséria. Foi, inclusive, na educação popular e nos movimentos sociais que ela encontrou inspiração para prosseguir:
“A educação popular me ajudou a romper todo o preconceito que eu sofria. Nos anos 1980, na escola, tive contato com partidos políticos, movimentos estudantis… E aquilo me encantava: ser contra a exploração do trabalhador, as injustiças sociais. Comecei como ouvinte e fui encontrando meu lugar na cidade grande, fui participar de um grupo de teatro. Minha formação eu devo a essa participação em grupos de arte e grupos estudantis.”


Em 1993, uma nova mudança ocorreu. Já participando de movimentos sociais e de grupos de teatro, Seluta conheceu em um festival de artes, vindo do Mato Grosso, o futuro marido, Maneco Maracá, nome artístico de Valdemir de Souza, com quem está casada há mais de 20 anos.
Maneco já trabalhava com projetos sociais e realizava um trabalho cultural com índios e posseiros na região do Baixo Araguaia, montando peças teatrais que contavam as histórias da região: era o Projeto Araguaia Pão & Circo.
Os dois começaram a namorar, uniram filosofias de vida, e ele mudou-se para Goiânia (GO) em 1994, onde fundaram o Grupo de Teatro Laheto.
“Laheto é uma palavra carajá… Eles utilizam um símbolo com este nome, parecido com um cocar, significando um ritual de passagem da infância para a vida adulta. Maneco veio de uma região de ribeirinhas e índios e trouxe essa bagagem. Nosso projeto nasceu, então, com a proposta de trabalhar questões de direitos sociais por meio de espetáculos de teatro.”
A proposta foi refinada após Maneco realizar uma capacitação em arte circense em Belo Horizonte (MG).
“Surgiu a ideia de oferecer o circo como um diálogo pedagógico, e começamos a trabalhar justamente com as crianças que mais transgrediam. Percebemos que, na verdade, o que elas queriam era chamar a atenção e decidimos dar a oportunidade de chamarem essa atenção de uma maneira construtiva. Surgiu, então, a proposta circense, pois os equipamentos do circo oferecem desafios muito sedutores para a infância, pré-adolescência e adolescência. Como resultado, quem era visto como transgressor, que jogava pedras nas janelas, cometia pequenos furtos, passou a ser visto de outra maneira, admirado. A comunidade passou a ter outro olhar sobre aqueles meninos e meninas.”
Para Seluta, a experiência do hoje Circo Laheto é um dos exemplos que a educação, seja formal, seja não formal, é capaz de transformar vidas – especialmente quando ocorre em parceria com a escola e com outros atores, um dos pilares da educação integral.
Não por acaso, o Circo Laheto, em parceria com a Escola Municipal Bárbara de Souza Morais, foi vencedor na categoria médio porte da Regional Goiânia na 11ª edição do Prêmio Itaú-Unicef (2015-2016). “Em educação, é importante a intencionalidade educativa. Isso transforma as vidas das pessoas.”
O que você diria para uma jovem que hoje decide trabalhar com educação integral?
“Em todas as esferas da sociedade, há discriminação contra a mulher. Eu, sendo mulher, nordestina, negra, passei por todas elas.
Mesmo trabalhando grande parte da minha vida na educação, que costuma ser um espaço feminino, sofri discriminação – mas, por uma questão de sobrevivência, aprendi a me impor.
Baseado nisso, às futuras gerações que sonham em desenvolver futuros trabalhos, digo para continuarem sonhando: só se sonha com aquilo que é possível de ser realizado.
Não se conformem, não achem normais a indiferença, a injustiça, a violência, a discriminação.
Temos sempre de encontrar meios de combatê-las.”
Danielle Barbosa
“A diversidade está na escola. A educação precisa aproximar, e não separar as pessoas.”
Danielle Barbosa, como Seluta, também é nordestina, do vizinho estado do Ceará. Ela divide, com a companheira da defesa da educação integral, a origem em uma família de baixa renda:
“Minha história não é diferente da de muitas pessoas. Mais velha de três irmãos, nasci no município de Aracati, em uma família simples: minha mãe era analfabeta e meu pai era vendedor autônomo. Meus primeiros anos escolares foram em uma escola pública muito simples, mas depois adquiri uma bolsa de 50%, e meus pais, com dificuldade, me matricularam numa escola particular, o Instituto São José. Eu ajudava nas despesas fazendo artesanato com bordado e objetos de gesso. A situação começou a ficar mais difícil no Fundamental II, e, no Ensino Médio, fui estudar na Escola Estadual Beni Carvalho, onde concluí o Magistério e me formei em 1996. No terceiro ano, fiz concurso para professora do município. Fui, então, lecionar na rede municipal, onde já estou há 18 anos”.
Danielle relata que, desde cedo, brincando com suas bonecas, tinha vontade de ser professora. Depois, fez dos irmãos e dos amigos seus alunos. Finalmente, passou a dar aulas particulares para as crianças da comunidade onde morava: “Minha grande inspiração foi minha mãe. Ela ficou órfã de pai muito cedo e, como a vida era difícil, precisou ajudar minha avó – como filha mais velha – a criar seus seis irmãos. Minha avó sustentava a família trabalhando como lavadeira e, assim, minha mãe, apesar de querer, não teve oportunidade de estudar. Além disso, casou-se muito cedo”.
“Aprendemos a trabalhar com o território, as identidades, a trabalhar a escola como um espaço para o encontro entre políticas públicas e projetos.”
Da inspiração vinda pelo desejo da mãe, seu próprio sonho e sua experiência como professora, Danielle viu na educação integral a possibilidade de contribuir ainda mais para os direitos de crianças e adolescentes. A opção foi resultado de uma experiência ocorrida em 2013, durante uma formação permanente em Educação Patrimonial por uma Cidade Educadora, curso oferecido pela Universidade Federal do Ceará. “O curso tinha o objetivo de vincular o cotidiano das comunidades à escola, visando desenvolver um mapeamento de atuações educativas na cidade, evidenciar a escola como um espaço de produção de um saber em prol de uma Cidade Educadora como espaço de cidadania, abrindo o diálogo entre professores e comunidade: alunos, familiares, moradores. Aprendemos bastante a trabalhar com o território, as identidades, a trabalhar a escola como um espaço para o encontro entre políticas públicas e projetos”, relata.
Formada em Letras pela Faculdade do Vale do Jaguaribe (FVJ), com pós-graduação em Gestão e Supervisão Escolar pela Faculdade Latino-Americana de Educação, a saída para Danielle foi estudar cada vez mais e se aprofundar no conceito da educação integral, o que lhe rendeu a indicação para trabalhar na Secretaria Municipal de Educação como coordenadora do Programa Mais Educação em Aracati (CE) – mas ela não se restringiu a isso.
Graças a seu esforço pessoal, com apoio da Secretaria de Educação do Ceará (Seduc), da gestão municipal de Aracati, de pessoas pertencentes à gestão dos municípios vizinhos e de formadores em educação integral, ela mobilizou-se, procurou instituições e conseguiu, com a Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede 10), criar um polo regional sobre educação integral no litoral leste cearense, que atraiu o interesse de organizações sociais, estudantes e outros agentes. Esse polo passou a contar com a assessoria do programa Políticas de Educação Integral, iniciativa da Fundação Itaú Social com coordenação técnica do Cenpec.
O polo se iniciou em 2015 e, no ano passado, realizou encontros em Aracati e em Jaguaruana (CE), cerca de 55 km ao sul. Durante os encontros, os participantes tiveram contato com o Banco de Oficinas da plataforma Educação&Participação. Além disso, o polo promoveu a visita a escolas de educação integral e atividades de formação.
Hoje, o Programa Mais Educação foi substituído pelo Novo Mais Educação, e Danielle não atua mais como coordenadora. Ela está no setor de Programas e Projetos e deverá iniciar atividades como formadora do Ensino Fundamental II. Seu interesse pela educação integral não se abalou: “As pessoas do polo já estão se mobilizando para este ano e temos esperança de iniciar novas atividades a partir do mês de abril”.
O que você diria para uma jovem que hoje decide trabalhar com educação integral?
“Sofri preconceito e dificuldades por ser mulher e por ser nordestina. Também por ser mãe, pois não tinha sido efetivada no meu segundo concurso e não tive a chance de ter licença-maternidade: voltei ao trabalho quando meu filho tinha apenas 1 mês de idade. No entanto, tudo isso é superado quando se tem coragem de lutar e de não abandonar quem você é. Você diz quem você é, não quem a rotula. Mesmo que ninguém acredite no que estamos fazemos, precisamos acreditar em nós mesmas. Nunca veja um “não” como uma resposta final para sua vida: dentro de um ‘não’ tem sempre oportunidade para um ‘sim’. Seja persistente, confie em você.”
Naiara Mendes da Silva
“Quando aprendemos alguma coisa, podemos trocar conhecimentos.”


Naiara Mendes da Silva não tem medo de rótulos, nem de lutar por seus objetivos: “Quando me formar, penso em dar aula. Se eu não exercer atividade como professora, quero muito estar na Assistência Social e ajudar, contribuir para que as pessoas se sintam acolhidas”, conta.
“A educação integral vem para que aprendamos mais coisas, coisas que ajudarão no nosso desenvolvimento, que vão servir para nossas vidas.”
Aos 23 anos de idade, ela já começou a trilhar esse caminho. Nascida no interior do Pará, em Moju, chegou à vizinha Abaetetuba aos 8 anos. Lá, seus irmãos começaram a frequentar a Associação Obras Sociais da Diocese de Abaetetuba – Pastoral do Menor e, em pouco tempo, Naiara também aderiu:
“Comecei a participar de um dos polos da organização e a fazer atividades ali, como manicure e pintura em papel e tecido. A partir daí me envolvi com os outros adolescentes e passamos a nos reunir para articular ações e encontros de adolescentes e passei a ser representante daquele polo.”
O envolvimento com a organização social se intensificou e, graças a ele, Naiara conseguiu um estágio no Banco da Amazônia entre 2008 e 2010 e a ter condições de arcar com mais cursos para investir na formação. Depois do estágio, fez cursinho, ganhou uma bolsa de estudos do programa Projovem, vinculado à Pastoral do Menor, e passou na Universidade Federal do Pará (UFPA), onde, desde 2012, estuda Licenciatura em Ciências Naturais.
A experiência na Pastoral permitiu também a Naiara ter contato com a educação integral.
“O Projeto Escola de Cidadania – Preparando os Adolescentes para o Futuro começou em 2009 e lá nós começamos a abordar temas do nosso cotidiano e assuntos que nos incomodavam. Recebíamos técnicos nas aulas, estudamos sobre drogas, sexualidade, Direitos Humanos, Estatuto da Criança e do Adolescente – e fomos ajudando quem entrava no projeto posteriormente, auxiliando na formação.”
Realizado em parceria com a Escola Municipal Santa Anastácia, o Escola de Cidadania foi vencedor na categoria pequeno porte da Regional Belém na 10ª edição do Prêmio Itaú-Unicef, e Naiara foi escolhida por todos os educadores para representá-lo na premiação.
“Quando se fala em educação integral, há quem veja como uma ‘sobrecarga’ para crianças e adolescentes. Eu vejo diferente: a educação integral vem para que aprendamos mais coisas, coisas que ajudarão no nosso desenvolvimento, que vão servir para nossas vidas. Na Pastoral, aprendi a ser mais crítica, a ter opinião, porque o projeto não impunha nada a ninguém: seu diferencial foi sempre o protagonismo juvenil, sermos capazes de criar algo.”
O que você diria para outra jovem que hoje decide trabalhar com educação integral?
“A mulher é, de certa forma, ‘bloqueada’ em seu avanço, na sua evolução, no crescer. No entanto, se ela quiser crescer como pessoa, desenvolver-se, este é o caminho: a educação. Nossa vida vai mudando com o tempo e depende muito de nossas escolhas se vai ser para melhor ou para pior.”
Créditos
| TEXTO, ENTREVISTAS E CONTEÚDO | João Marinho de Lima Neto |
| EDIÇÃO E LAYOUT | Thais Iervolino |
| ARTE E DESIGN | Thiago Luis de Jesus |
| COORDENAÇÃO | Marcia Coutinho R. Jimenez |
| FOTOS | Divulgação/Reprodução e Arquivo pessoal, excetuando-se as que têm indicações específicas nos créditos. Todas as imagens foram cedidas pelas entrevistadas. |
CONTEÚDOS RELACIONADOS